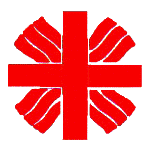Porque em artigo anterior referi a complexidade de elementos que se cruzam na interpretação de factos históricos, entendi exemplificar, agora, esta realidade com um elemento concreto da História da Igreja e da nossa História Universal. De largo alcance, de resto. Trata-se da história de John Wycliffe, sacerdote inglês que viveu, como indicado, entre os anos 1320 e 1384. Sendo natural de uma família tradicional do Yorkshire, na Inglaterra, foi enviado para a Universidade de Oxford, onde cursou Teologia, Filosofia e Cânones. Desta vasta formação salienta-se o seu doutoramento em Teologia, que conduzirá John Wycliffe ao professorado no Balliol College, na mesma cidade de Oxford.
No aprofundamento das suas teses, Wycliffe defende a purificação da Igreja de seu tempo, considerando que esta deveria regressar ao seu estado original, em conformidade com o Evangelho. Mas, desde logo, entenda-se que esta não será a única voz, ao longo da História da Igreja, que defende tal regresso às origens – defenderam posição semelhante muitos dos Humanistas, do período do Renascimento, e muitas outras figuras maiores da própria Igreja, como, por exemplo São Francisco de Assis e São Domingos, no período medieval; ou mesmo ainda, São Bernardo de Claraval, fundador da Ordem de Cister, para me referir ao mesmo período. E, no nosso tempo, sob a intuição do Papa João XXIII a Igreja realiza uma das maiores renovações, através do Concílio Ecuménico Vaticano II, por ele mesmo convocado. A diferença entre Wycliffe e estes outros reformadores – entre os muitos que poderíamos apontar – define-se a partir dos métodos e dos objectivos que se pretendem alcançar. E Wycliffe, segundo as suas intuições, visava retirar à Igreja elementos constitutivos que lhe são essenciais. Além do mais, permite que o seu pensamento perca a isenção quando se mistura com outros interesses de carácter político e económico que, definitivamente, o condicionam. Claro que – como os demais – Wycliffe é um «produto» do seu tempo. Mas vejamos: nas suas reformas, defende a sujeição do poder eclesiástico ao poder temporal, alicerçado no princípio ideológico (que marcou a idade média e a moderna) de que o poder régio provinha de Deus. Certo é que colocava a Igreja na esfera do poder temporal, num período em que os poderes se sobrepunham, ora favorecendo a perspectiva eclesial, ora a perspectiva secular. De resto, retirava à Igreja boa parte da sua identidade, tornando-a cativa do poder secular. Esta intuição de Wycliffe, que não surtiu efeito no seu tempo, veio a fundamentar a posição de Henrique VIII, quando, por razões meramente pessoais, que todos bem conhecemos, como era a questão do seu divórcio e recasamento, o levaram, sensivelmente dois séculos depois, a quebrar a união com Roma e a assumir-se como chefe da Igreja de Inglaterra, abrindo espaço à divisão Anglicana.
Mas, dado importante, é que durante o período de produção das teses de Wycliffe estamos em plena Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453), que opõe precisamente, entre outros, a Inglaterra à França. Ora, nada servia melhor a causa Inglesa, e as suas afirmações nacionalistas, senão a separação do papado, porquanto este, precisamente entre 1309 e 1377, se encontrava em Avinhão, território francês. Daí, inicialmente, a adesão clara dos poderes instituídos e do próprio povo à causa de Wycliffe. Por outro lado, como haveria de acontecer com Lutero, dois séculos depois, os grandes senhores pretendiam libertar-se dos tributos ao Papa; acrescendo ainda, agora, o desejo de se apossarem dos bens da Igreja, que passavam para a sua tutela.
Importa ainda considerar que Wycliffe, particularmente na fase final da sua vida, e já depois de admoestado pela competente autoridade eclesiástica, procura anular um elemento fundamental da eclesiologia, como era, e continua a ser, a sucessão apostólica, anulando o papado e a própria hierarquia da Igreja. Mesmo em relação aos padres, retirava-lhes a natureza sacramental da ordenação, o que inviabilizava o exercício específico do seu ministério. De igual modo, negava a transubstanciação no mistério Eucarístico. E quanto à divulgação da Bíblia, um outro problema igualmente se levantava – o da interpretação do texto sagrado. Pela sua natureza, o texto bíblico necessitava de ser interpretado para não se desvirtuar, como, de resto, veio a acontecer depois da Reforma Protestante, iniciada com Lutero. A livre interpretação, sem fundamentação, abria espaço a uma profunda ruptura da fé e da unidade doutrinal. Certo é que a maior parte dos Ingleses, com a tradução para a sua língua mãe, não tinha acesso ao texto – muito caro, porque manuscrito, e porque grassava ainda um profundo analfabetismo entre a população. Mas abria-se espaço para uma ruptura na unidade da fé, que assenta no dado revelado. Realidade que, uma vez mais, pudemos constatar dois séculos depois com Lutero, sobretudo quando a Bíblia passa a ser impressa. O problema não é da leitura (ainda que a Igreja a reservasse), era sim o da interpretação. E a verdade é que a livre interpretação, sem aqui a valorar, criou uma imensa diversidade de Igrejas que se extremam até ao limite dos grupos sectários. Portanto, unida à questão política estava uma sensível questão religiosa.
Ora, neste contexto, não foi apenas a Igreja que reagiu; o próprio poder régio assume acção determinante na inviabilização da difusão das ideias de Wycliffe, quando, em meados de 1381, o rei Ricardo II, na sequência de um movimento social, atribuído aos discípulos de Wycliffe, conhecidos como «lolardos», pede à Universidade de Oxford que expulse este professor e impede a difusão das suas teses em sermões ou demais formas de ensino, sob pena de prisão para quem infringisse tal determinação.
Wycliffe viria a morrer na sequência de uma apoplexia, sofrida a 28 de Dezembro de 1384. Só posteriormente o Concilio de Constança (que decorreu entre 1414 e 1418) declarou as suas teses heréticas, particularmente quando, na esteira de tal mestre, Jan Huss e Jerónimo de Praga, seus discípulos, intentavam nova reforma que punha em causa a unidade da Igreja.
É certo que os seus escritos foram queimados, bem como os seus restos mortais. Mas tão pouco nos devemos admirar de tal processo, no período em questão, porquanto o fogo assumia um simbolismo purificador. Tal aconteceu, igualmente, em toda a época moderna, nos simples movimentos sociais, de carácter civil – na nossa linguagem hodierna – em que tudo o que se considerava iníquo era destruído pelo fogo, com este mesmo simbolismo de purificação.
A concluir, podemos sintetizar com a afirmação clara de que o processo de Wycliffe é transversal à realidade do seu tempo – política e religiosa. E não se propagou devido à oposição de todos os poderes instituídos. O mesmo não aconteceu com Lutero, que beneficiou dos interesses económicos e políticos de uma nova conjuntura, própria da época em que viveu e deu forma ao seu pensamento. Todavia, Wycliffe foi o primeiro teorizador da reforma que, depois, com Lutero havia de vingar.
Quanto à Igreja, por muito que nos custe aceitá-lo hoje, segundo a nossa mentalidade, necessariamente diversa da daquele tempo histórico, tomou as medidas necessárias para que a sua identidade e constituição se não desvirtuassem. O processo de Wycliffe não é, pois, um processo simples, mas de «luta» por uma identidade que até hoje se não perdeu! E mesmo se as divisões da Igreja acabaram por se consumar – ferida maior na sua História – tendem agora a dissipar-se com novas formas de aproximação, que só o futuro poderá erradicar de vez, num processo de Ecumenismo que não cessa de produzir os seus belos frutos! O último dos quais é a aproximação Anglicana, numa abertura bela à comunhão e unidade de uma única Igreja, segundo a vontade do Seu fundador e que nos cabe a todos restabelecer!
Pe. Carlos Alberto da Graça Godinho
No aprofundamento das suas teses, Wycliffe defende a purificação da Igreja de seu tempo, considerando que esta deveria regressar ao seu estado original, em conformidade com o Evangelho. Mas, desde logo, entenda-se que esta não será a única voz, ao longo da História da Igreja, que defende tal regresso às origens – defenderam posição semelhante muitos dos Humanistas, do período do Renascimento, e muitas outras figuras maiores da própria Igreja, como, por exemplo São Francisco de Assis e São Domingos, no período medieval; ou mesmo ainda, São Bernardo de Claraval, fundador da Ordem de Cister, para me referir ao mesmo período. E, no nosso tempo, sob a intuição do Papa João XXIII a Igreja realiza uma das maiores renovações, através do Concílio Ecuménico Vaticano II, por ele mesmo convocado. A diferença entre Wycliffe e estes outros reformadores – entre os muitos que poderíamos apontar – define-se a partir dos métodos e dos objectivos que se pretendem alcançar. E Wycliffe, segundo as suas intuições, visava retirar à Igreja elementos constitutivos que lhe são essenciais. Além do mais, permite que o seu pensamento perca a isenção quando se mistura com outros interesses de carácter político e económico que, definitivamente, o condicionam. Claro que – como os demais – Wycliffe é um «produto» do seu tempo. Mas vejamos: nas suas reformas, defende a sujeição do poder eclesiástico ao poder temporal, alicerçado no princípio ideológico (que marcou a idade média e a moderna) de que o poder régio provinha de Deus. Certo é que colocava a Igreja na esfera do poder temporal, num período em que os poderes se sobrepunham, ora favorecendo a perspectiva eclesial, ora a perspectiva secular. De resto, retirava à Igreja boa parte da sua identidade, tornando-a cativa do poder secular. Esta intuição de Wycliffe, que não surtiu efeito no seu tempo, veio a fundamentar a posição de Henrique VIII, quando, por razões meramente pessoais, que todos bem conhecemos, como era a questão do seu divórcio e recasamento, o levaram, sensivelmente dois séculos depois, a quebrar a união com Roma e a assumir-se como chefe da Igreja de Inglaterra, abrindo espaço à divisão Anglicana.
Mas, dado importante, é que durante o período de produção das teses de Wycliffe estamos em plena Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453), que opõe precisamente, entre outros, a Inglaterra à França. Ora, nada servia melhor a causa Inglesa, e as suas afirmações nacionalistas, senão a separação do papado, porquanto este, precisamente entre 1309 e 1377, se encontrava em Avinhão, território francês. Daí, inicialmente, a adesão clara dos poderes instituídos e do próprio povo à causa de Wycliffe. Por outro lado, como haveria de acontecer com Lutero, dois séculos depois, os grandes senhores pretendiam libertar-se dos tributos ao Papa; acrescendo ainda, agora, o desejo de se apossarem dos bens da Igreja, que passavam para a sua tutela.
Importa ainda considerar que Wycliffe, particularmente na fase final da sua vida, e já depois de admoestado pela competente autoridade eclesiástica, procura anular um elemento fundamental da eclesiologia, como era, e continua a ser, a sucessão apostólica, anulando o papado e a própria hierarquia da Igreja. Mesmo em relação aos padres, retirava-lhes a natureza sacramental da ordenação, o que inviabilizava o exercício específico do seu ministério. De igual modo, negava a transubstanciação no mistério Eucarístico. E quanto à divulgação da Bíblia, um outro problema igualmente se levantava – o da interpretação do texto sagrado. Pela sua natureza, o texto bíblico necessitava de ser interpretado para não se desvirtuar, como, de resto, veio a acontecer depois da Reforma Protestante, iniciada com Lutero. A livre interpretação, sem fundamentação, abria espaço a uma profunda ruptura da fé e da unidade doutrinal. Certo é que a maior parte dos Ingleses, com a tradução para a sua língua mãe, não tinha acesso ao texto – muito caro, porque manuscrito, e porque grassava ainda um profundo analfabetismo entre a população. Mas abria-se espaço para uma ruptura na unidade da fé, que assenta no dado revelado. Realidade que, uma vez mais, pudemos constatar dois séculos depois com Lutero, sobretudo quando a Bíblia passa a ser impressa. O problema não é da leitura (ainda que a Igreja a reservasse), era sim o da interpretação. E a verdade é que a livre interpretação, sem aqui a valorar, criou uma imensa diversidade de Igrejas que se extremam até ao limite dos grupos sectários. Portanto, unida à questão política estava uma sensível questão religiosa.
Ora, neste contexto, não foi apenas a Igreja que reagiu; o próprio poder régio assume acção determinante na inviabilização da difusão das ideias de Wycliffe, quando, em meados de 1381, o rei Ricardo II, na sequência de um movimento social, atribuído aos discípulos de Wycliffe, conhecidos como «lolardos», pede à Universidade de Oxford que expulse este professor e impede a difusão das suas teses em sermões ou demais formas de ensino, sob pena de prisão para quem infringisse tal determinação.
Wycliffe viria a morrer na sequência de uma apoplexia, sofrida a 28 de Dezembro de 1384. Só posteriormente o Concilio de Constança (que decorreu entre 1414 e 1418) declarou as suas teses heréticas, particularmente quando, na esteira de tal mestre, Jan Huss e Jerónimo de Praga, seus discípulos, intentavam nova reforma que punha em causa a unidade da Igreja.
É certo que os seus escritos foram queimados, bem como os seus restos mortais. Mas tão pouco nos devemos admirar de tal processo, no período em questão, porquanto o fogo assumia um simbolismo purificador. Tal aconteceu, igualmente, em toda a época moderna, nos simples movimentos sociais, de carácter civil – na nossa linguagem hodierna – em que tudo o que se considerava iníquo era destruído pelo fogo, com este mesmo simbolismo de purificação.
A concluir, podemos sintetizar com a afirmação clara de que o processo de Wycliffe é transversal à realidade do seu tempo – política e religiosa. E não se propagou devido à oposição de todos os poderes instituídos. O mesmo não aconteceu com Lutero, que beneficiou dos interesses económicos e políticos de uma nova conjuntura, própria da época em que viveu e deu forma ao seu pensamento. Todavia, Wycliffe foi o primeiro teorizador da reforma que, depois, com Lutero havia de vingar.
Quanto à Igreja, por muito que nos custe aceitá-lo hoje, segundo a nossa mentalidade, necessariamente diversa da daquele tempo histórico, tomou as medidas necessárias para que a sua identidade e constituição se não desvirtuassem. O processo de Wycliffe não é, pois, um processo simples, mas de «luta» por uma identidade que até hoje se não perdeu! E mesmo se as divisões da Igreja acabaram por se consumar – ferida maior na sua História – tendem agora a dissipar-se com novas formas de aproximação, que só o futuro poderá erradicar de vez, num processo de Ecumenismo que não cessa de produzir os seus belos frutos! O último dos quais é a aproximação Anglicana, numa abertura bela à comunhão e unidade de uma única Igreja, segundo a vontade do Seu fundador e que nos cabe a todos restabelecer!
Pe. Carlos Alberto da Graça Godinho
NOTA: Texto publicado no Jornal da Mealhada