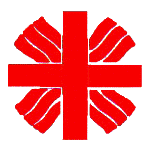A República Portuguesa comemora hoje, 5 de Outubro de 2010, o seu primeiro Centenário. É, efectivamente, um regime político afirmado no tempo, capaz de compreender ainda outros tempos; tantos quantas as várias imagens de tal regime, em Portugal. De facto, a República Portuguesa não tem apenas um rosto; tem, pelo menos, três, coincidentes com a primeira República, com o período Ditatorial e com a experiência Democrática. Em Portugal, tal regime não é uma realidade homogénea, mas como que construído por diversos estratos temporais e ideológicos – a cada tempo correspondem ideias diferentes: revolução, ditadura, democracia! Não é meu intento deter-me, agora, sobre cada um deles, para estabelecer diferenças ou considerações específicas de cada qual; procurando antes – isso sim – olhar a globalidade da experiência Republicana em Portugal. Concretamente, para sublinhar três aspectos que assumo como questionamentos em aberto. Em primeiro lugar, afirma-se a República, na sua implantação inicial, como «a Revolução que foi proclamada por todo o povo antes ainda de decidida a última acção, ou se saber quem alcançaria a vitória…» (“As Constituições de 1911 e os seus Deputados” in Desdobrável Comemorativo do Centenário da República (1910 – 2010)). Se é certo que a Monarquia Constitucional e, particularmente, os seus últimos governos, passaram por graves dificuldades políticas e económicas, a verdade é que os movimentos de opinião republicanos apenas se manifestaram nas principais urbes (ainda que o Republicanismo se tivesse difundido pelas várias cidades do Reino), através de alguns letrados, muito especialmente afectos ao Partido Republicano Português (PRP). A generalidade do povo estava à margem dos processos ideológicos da época; pois, ou não os conhecia, ou simplesmente não os entendia. De resto, perseverava, no povo, uma mentalidade tradicional, conformada com a realidade existente. A República foi gizada e levada a cabo por um conjunto de ideólogos, da elite política e cultural, especialmente afectos aos ideais revolucionários, que se souberam servir da Maçonaria e da Carbonária (esta última derivada da primeira, com intuitos mais radicais, levando a cabo a acção armada, como havia acontecido já, dois anos antes, com o regicídio – cf. António Arnaut, Introdução à Maçonaria, pp. 69 - 70). O povo tanto gritaria pela República, como continuaria a aclamar o Rei, caso persistisse o regime Monárquico, entretanto decapitado (tal é confirmado, pouco antes do 5 de Outubro, pela passagem de D. Manuel II pelas terras Aveirenses, onde foi profundamente ovacionado e extremamente bem acolhido). O povo português, na sua maioria, era iletrado, ou mesmo analfabeto, o que o colocava à margem da decisão da causa pública. Aliás, a primeira República reconheceu-o, concedendo o direito de voto apenas aos minimamente letrados, num processo de restrição de participação cívica singular, face ao praticado anteriormente, na Monarquia Constitucional. De resto, uma inequívoca contradição do novo regime.
A República Portuguesa comemora hoje, 5 de Outubro de 2010, o seu primeiro Centenário. É, efectivamente, um regime político afirmado no tempo, capaz de compreender ainda outros tempos; tantos quantas as várias imagens de tal regime, em Portugal. De facto, a República Portuguesa não tem apenas um rosto; tem, pelo menos, três, coincidentes com a primeira República, com o período Ditatorial e com a experiência Democrática. Em Portugal, tal regime não é uma realidade homogénea, mas como que construído por diversos estratos temporais e ideológicos – a cada tempo correspondem ideias diferentes: revolução, ditadura, democracia! Não é meu intento deter-me, agora, sobre cada um deles, para estabelecer diferenças ou considerações específicas de cada qual; procurando antes – isso sim – olhar a globalidade da experiência Republicana em Portugal. Concretamente, para sublinhar três aspectos que assumo como questionamentos em aberto. Em primeiro lugar, afirma-se a República, na sua implantação inicial, como «a Revolução que foi proclamada por todo o povo antes ainda de decidida a última acção, ou se saber quem alcançaria a vitória…» (“As Constituições de 1911 e os seus Deputados” in Desdobrável Comemorativo do Centenário da República (1910 – 2010)). Se é certo que a Monarquia Constitucional e, particularmente, os seus últimos governos, passaram por graves dificuldades políticas e económicas, a verdade é que os movimentos de opinião republicanos apenas se manifestaram nas principais urbes (ainda que o Republicanismo se tivesse difundido pelas várias cidades do Reino), através de alguns letrados, muito especialmente afectos ao Partido Republicano Português (PRP). A generalidade do povo estava à margem dos processos ideológicos da época; pois, ou não os conhecia, ou simplesmente não os entendia. De resto, perseverava, no povo, uma mentalidade tradicional, conformada com a realidade existente. A República foi gizada e levada a cabo por um conjunto de ideólogos, da elite política e cultural, especialmente afectos aos ideais revolucionários, que se souberam servir da Maçonaria e da Carbonária (esta última derivada da primeira, com intuitos mais radicais, levando a cabo a acção armada, como havia acontecido já, dois anos antes, com o regicídio – cf. António Arnaut, Introdução à Maçonaria, pp. 69 - 70). O povo tanto gritaria pela República, como continuaria a aclamar o Rei, caso persistisse o regime Monárquico, entretanto decapitado (tal é confirmado, pouco antes do 5 de Outubro, pela passagem de D. Manuel II pelas terras Aveirenses, onde foi profundamente ovacionado e extremamente bem acolhido). O povo português, na sua maioria, era iletrado, ou mesmo analfabeto, o que o colocava à margem da decisão da causa pública. Aliás, a primeira República reconheceu-o, concedendo o direito de voto apenas aos minimamente letrados, num processo de restrição de participação cívica singular, face ao praticado anteriormente, na Monarquia Constitucional. De resto, uma inequívoca contradição do novo regime.Em segundo lugar, a República visava implementar, na esteira do Liberalismo já reinante, os ideais da Revolução Francesa – «Liberdade, Egualdade e Fraternidade» (in “Imagem da República”, 1910 – 2010: República Portuguesa, Brochura Comemorativa do Centenário da República, Museu da Presidência da República). Em sintonia com estes ideais, a primeira Constituição da República Portuguesa afirmava: «Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária» (“Constituição da república Portuguesa” in Desdobrável Comemorativo do Centenário da República). Ora, é esta afirmação de fundo que hoje nos serve para uma profunda análise da sociedade portuguesa e, consequentemente, para questionar: atingiu a República os seus objectivos? Ainda que tais questionamentos exigissem um espaço mais alargado de exposição, podemos concluir, sumariamente, que realmente não atingiu os objectivos apontados! A República só atingiria os seus fins se os princípios enunciados se tornassem operativos e fossem realidades adquiridas na construção da nossa identidade colectiva. Na verdade, nem a dignidade da pessoa é regra máxima para a estruturação da vida em sociedade, nem a liberdade ou a fraternidade são ditames essenciais para essa organização. Sem nos determos nos tempos pretéritos, atentemos no conceito de liberdade e na sua operacionalização nos tempos que correm: para que exista liberdade é essencial assegurar o direito igualitário à justiça, como salvaguarda da integridade pessoal de cada um e dos seus bens, e como esteio da vivência em democracia. Ora, a justiça – pilar e garantia da liberdade individual e colectiva – é hoje das realidades mais sensíveis e desigualitárias da sociedade portuguesa! Por seu turno, o conceito de igualdade remete-nos para uma certa uniformização social, onde cada um possa assumir, de forma fundamentada e capaz, uma verdadeira intervenção cívica. A este propósito, considere-se o estado da educação e o modo como tem sido assumida pelos sucessivos governos republicanos, no sentido de aferirmos se a intervenção cívica e qualificada (mormente no aspecto laboral), e os benefícios que lhe estão associados, são uma evidência para o Portugal moderno que pretendemos construir! De vários quadrantes chegam indicações de que temos de privilegiar uma educação de qualidade, em detrimento de uma educação estatística. Já no que se refere à fraternidade, ainda que vivendo numa sociedade que contempla o «estado social», a realidade é bem mais dura. A cem anos da implantação da República persistem, em Portugal, mais de dois milhões de pobres (e alguns outros no limiar da pobreza), num universo de cerca de dez milhões que constituem a sociedade portuguesa. Em termos sociais, Portugal tende a polarizar-se – à semelhança de algumas sociedades latino-americanas – em duas classes: a classe rica e a classe pobre, esvaziando aquela que prevalecia como classe dominante – a classe média.
Exposto isto, a pergunta: que lugar para comemorar a República (sem me deter, também, na análise dos períodos anteriores)?
De qualquer forma, e porque a República é, em Portugal, uma instituição centenária, dois aspectos a sublinhar, ao terminar: no período republicano entrámos na União Europeia (ainda que o republicanismo não seja um requisito exigível para essa adesão), o que nos garante a sustentabilidade como nação num mundo cada vez mais globalizado; findos os primeiros cem anos, fica-nos a esperança de que o futuro traga no seu seio o que o passado ainda não foi capaz de construir. A bem de Portugal e dos Portugueses!
Lisboa, 5 de Outubro de 2010
Carlos Alberto da Graça Godinho